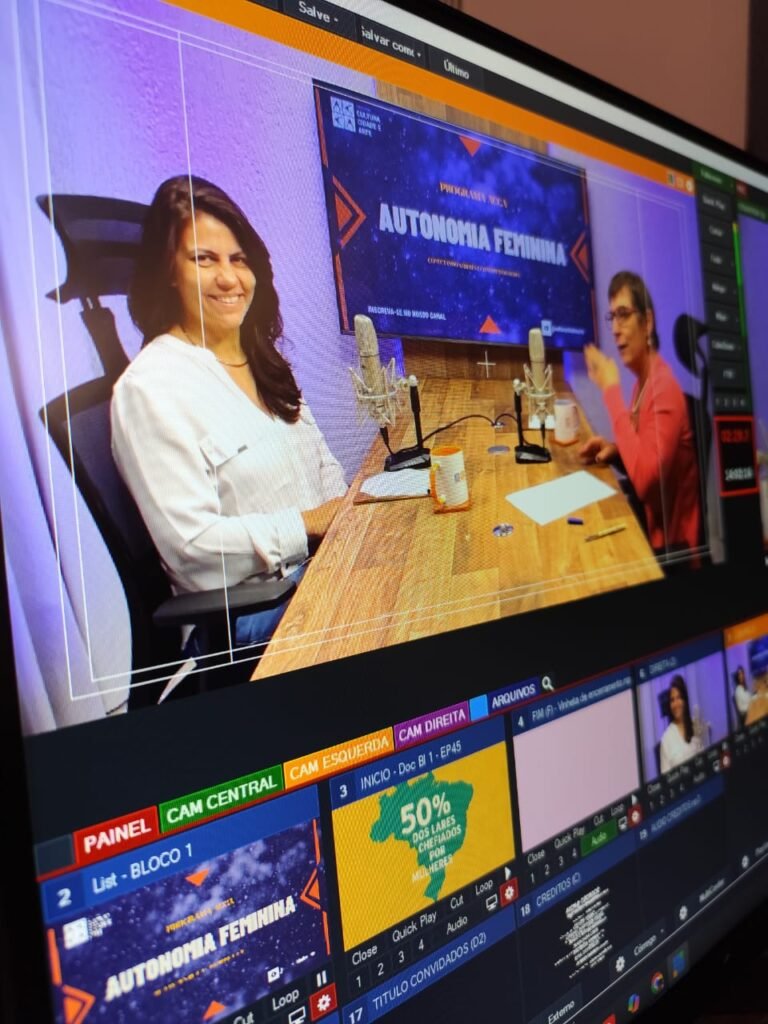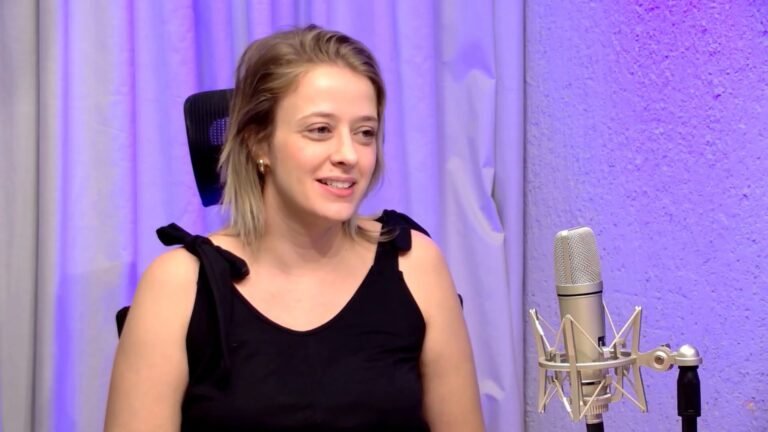Corpos fabricados, autonomias em disputa: violência digital no cotidiano
Há dados que ferem. Um deles insiste em retornar: o Grok está gerando cerca de uma imagem sexualizada não consensual por minuto. Tento repetir a frase em silêncio, como quem testa o peso de uma palavra nova. Um minuto. Outro. Mais um corpo fabricado. Não se trata de erro técnico nem de mau uso excepcional. Trata-se de funcionamento cotidiano. Integrado à plataforma X, o chatbot da xAI, empresa de Elon Musk, responde com eficiência a comandos simples: “coloque-a em lingerie”. A máquina obedece. O corpo aparece. O consentimento não.
O caso da cantora Sabrina Carpenter, amplamente noticiado, não chama atenção por sua gravidade, mas por sua banalidade. No Brasil, a prática ganhou repercussão quando a jornalista Julie Yukari denunciou à polícia que teve fotos manipuladas pela mesma ferramenta, no último dia 2 de janeiro de 2026. Pela lei brasileira, a criação e o compartilhamento de imagens íntimas falsas sem autorização é crime e pode levar à punição dos responsáveis
Uma foto pública, um pedido explícito, uma resposta imediata da máquina. Sem hesitação, sem mediação, sem freio. O que assusta não é apenas o resultado, mas a fluidez do processo. Tudo acontece rápido demais, como se despir mulheres fosse apenas mais uma função disponível no menu.
Mas a violência não se detém nas figuras públicas. No Brasil, mulheres anônimas descobrem versões falsas de seus corpos circulando nas redes. Algumas reconhecem o próprio rosto; outras reconhecem apenas a sensação: choque, vergonha, sujeira. Como relatou uma das vítimas ao jornal g1 em 8 de janeiro de 2026, “na foto original eu estava de calça”, um detalhe que pesa mais que qualquer tecnicismo, porque o corpo real não escolheu e o corpo fabricado circula sem permissão. A violência não acontece na imagem, mas acontece no corpo que permanece aqui, tentando compreender o que foi arrancado sem toque.
É nesse ponto que algo precisa ser entendido com clareza incômoda: a violência digital não exige contato físico para produzir efeitos materiais, emocionais e políticos profundos. Ela opera à distância, mas não é abstrata. Ela atravessa o cotidiano, reorganiza gestos, instala medo, ensina silêncios.
O alerta da Organização das Nações Unidas, reiterado no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, não é apenas mais um lema institucional: ele confirma, uma vez mais, o que muitas já sentem na pele e no corpo. Em 25 de novembro de 2025, a ONU destacou que tecnologias digitais e ferramentas de inteligência artificial podem exacerbar padrões existentes de violência e criar novas formas de abuso que atingem desproporcionalmente mulheres e meninas, tornando o ambiente digital um dos espaços mais intensamente vividos dessa violência, e não uma exceção a ela.
O que esses episódios revelam, portanto, não é apenas abuso individual nem desvio moral de usuários isolados. Revelam uma estrutura cotidiana de violência, sustentada por plataformas que operam sem responsabilização proporcional aos danos que produzem.
Quando se observa com mais atenção, fica difícil sustentar a ideia de que a violência digital seja um conjunto de episódios isolados, desvios morais ou usos indevidos de tecnologias neutras. O que emerge, ao contrário, é um padrão: ataques coordenados, silenciamentos recorrentes, exposição seletiva de certos corpos, vigilância concentrada sobre determinadas vidas. A violência não aparece como exceção que rompe o sistema, mas como parte de sua engrenagem cotidiana. Ela se distribui de forma desigual, seguindo linhas conhecidas de gênero, raça, classe, sexualidade e território.
Pesquisas das geografias digitais feministas têm mostrado que o digital não inaugura essas hierarquias, ele as reorganiza espacialmente, deslocando-as para novas escalas, ritmos e formas de circulação. Ataques online funcionam como extensões de violências históricas, agora mediadas por plataformas, algoritmos e economias de atenção. O que muda não é a lógica da dominação, mas seus modos de operação: mais rápidos, mais difusos, menos localizáveis. O linchamento não precisa mais de praça pública; basta uma timeline. A perseguição não exige proximidade física; basta um perfil, um print, um compartilhamento.
Nesse sentido, a violência digital se sustenta por códigos, técnicos e morais. Assim como o código computacional organiza o que pode ou não circular, normas sociais regulam quais corpos são considerados legítimos, desejáveis ou descartáveis no espaço online. Corpos dissidentes, femininos, racializados ou empobrecidos tornam-se mais expostos, mais governáveis, mais vulneráveis à captura. A tecnologia não apenas hospeda essas dinâmicas: ela aprende com elas e as reproduz. A violência deixa de ser apenas um ato e passa a ser uma condição de existência no ambiente digital para muitos sujeitos.
O que se revela, então, é uma forma de governo do cotidiano. Plataformas que prometem conexão operam simultaneamente como infraestruturas de vigilância, normalização e controle. Mulheres, pessoas racializadas e grupos historicamente marginalizados são sobre-expostos à observação, à avaliação e à punição, seja pelo Estado, seja por mercados de dados, seja por multidões digitais mobilizadas pelo ódio ou pelo desejo. A violência, nesse contexto, não é um acidente a ser corrigido posteriormente, mas um efeito previsível de sistemas desenhados para extrair valor da visibilidade e da circulação incessante.
Reconhecer a violência digital como estrutura cotidiana exige deslocar o olhar: sair da pergunta “o que aconteceu?” e insistir em “como isso se repete?”. Exige também aceitar uma constatação incômoda: viver no digital, para muitos corpos, significa negociar continuamente com o risco. É a partir dessa negociação permanente, entre exposição e retirada, presença e silêncio, que a questão da autonomia se torna inevitável. Não como promessa abstrata, mas como problema concreto.
Autonomia em disputa
Durante anos, o discurso da transformação digital insistiu em associar conectividade à liberdade. Aprender, compartilhar, colaborar, tudo parecia possível, mais rápido e mais acessível. A autonomia, nesse imaginário, aparecia como consequência natural do acesso: bastaria estar conectada, ter um dispositivo, criar um perfil. Mas essa promessa começa a ruir quando observada de perto. Para muitas mulheres, estar online não é sinônimo de ampliação de possibilidades, mas de exposição constante, vigilância difusa e necessidade permanente de cálculo. A autonomia, longe de ser dada, torna-se algo a ser negociado todos os dias.
Essa negociação não acontece em condições iguais. Barreiras econômicas, desigualdades educacionais, normas culturais, responsabilidades domésticas e o próprio desenho masculinizado das tecnologias moldam quem pode usar o digital com relativa segurança e quem paga um preço mais alto por essa presença. Em muitos contextos, o obstáculo já não é apenas o acesso, mas o sentido: por que permanecer em um espaço que produz medo, cansaço e deslegitimação? A ausência, nesse caso, não é desinteresse, mas resposta. Quando o ambiente digital se apresenta como hostil, retirar-se pode ser um gesto racional, ainda que esse gesto seja lido como exclusão ou fracasso.
Falar em autonomia, portanto, exige deslocar o conceito. Autonomia não é autonomia se depende da tolerância à violência. Não é autonomia se pressupõe adaptação infinita a sistemas que não protegem. Ela emerge, quando emerge, como prática situada, coletiva e imperfeita: no aprendizado compartilhado, na escolha de quando falar e quando calar, na construção de redes de apoio que tornam a presença possível sem anular o corpo. Nesse sentido, a autonomia não se opõe à vulnerabilidade; ela nasce justamente do reconhecimento de que existir no digital é, para muitas, um exercício contínuo de risco administrado.
É no cotidiano, longe das grandes promessas e dos discursos oficiais, que muitas mulheres inventam formas possíveis de permanecer. A resistência não aparece como gesto heroico, mas como prática miúda: bloquear sem explicar, silenciar grupos, restringir a circulação da própria imagem, falar apenas em espaços de confiança, aprender a desaparecer quando a presença se torna perigosa. Esses gestos, frequentemente interpretados como retraimento ou fraqueza, são, na verdade, estratégias de sobrevivência em territórios digitais hostis. Resistir, aqui, não significa ocupar o centro da cena, mas preservar algum grau de controle sobre o próprio corpo, o próprio tempo e a própria atenção.
O cotidiano também produz tecnologias que raramente são reconhecidas como tais. Redes de cuidado se formam na troca de alertas, no ensino informal de como denunciar, registrar provas, lidar com o medo, reconstruir a confiança depois da violação. Esse conhecimento nasce da experiência compartilhada da violência e circula fora dos vocabulários dominantes da inovação. O cuidado, nesse contexto, opera como tecnologia social: uma infraestrutura relacional que sustenta a autonomia possível. Não elimina o risco, não promete segurança plena, mas cria brechas onde a vida insiste em continuar, mesmo sob vigilância, mesmo sob cansaço, mesmo sem garantias.
Este debate não reivindica neutralidade. Diante da violência digital, o distanciamento analítico pode facilmente se tornar uma cumplicidade silenciosa. Quando plataformas permitem que corpos sejam fabricados, expostos e violados com eficiência técnica, não estamos diante de falhas pontuais, mas de escolhas estruturais. A violência não surge apesar do sistema, ela emerge de um modelo que transforma visibilidade em valor e engajamento em lucro, mesmo quando esse engajamento é produzido pelo medo, pelo ódio ou pelo humilhação.
Nós, geógrafas feministas, recusamos também a lógica que desloca a responsabilidade para quem sofre a violência. A insistência em que mulheres aprendam a se proteger melhor, a configurar corretamente suas contas ou a “usar com cuidado” as tecnologias ignora o fato de que o risco é estrutural e desigualmente distribuído. Posicionar-se politicamente, aqui, é afirmar que autonomia não pode significar suportar violência como condição de participação. É defender uma ética feminista do digital que reconheça o direito ao cuidado coletivo como dimensões legítimas da vida online. Não se trata de imaginar um futuro sem conflito, mas de recusar um presente em que a violação é tratada como custo aceitável da inovação.
Talvez a pergunta não seja como tornar o digital mais seguro, mas como continuar existindo nele sem perder o próprio contorno.
A violência não se anuncia; ela se infiltra. Aparece no gesto interrompido antes de postar, na frase apagada antes de enviar, no cansaço que antecede o silêncio. Nesse cenário, a autonomia deixa de ser promessa abstrata e passa a ser prática delicada, feita de escolhas pequenas, por vezes contraditórias. Permanecer, sair, voltar, falar, calar, reaparecer. Cada gesto é uma negociação com um ambiente que raramente oferece garantias.
O que está em jogo, então, não é apenas a regulação das tecnologias ou a correção de excessos, mas o que aceitamos como normal. Normalizar que mulheres precisam se esconder para não serem violentadas é aceitar um empobrecimento radical da vida pública. Normalizar que a inovação avance deixando corpos feridos pelo caminho é confundir progresso com indiferença. Imaginar outros arranjos digitais talvez não exija grandes promessas futuristas, mas atenção às brechas já existentes: nos gestos de cuidado, nas redes de apoio, nas recusas silenciosas que insistem em afirmar dignidade mesmo quando não há proteção institucional.
Este debate não se encerra porque a autonomia não é garantida, ela é testada diariamente. Pensar violência digital é aceitar que a tecnologia não emancipa por si só, e que a internet pode tanto ampliar quanto restringir possibilidades de vida. A pergunta que insiste, e que atravessa esta reflexão, é: até que ponto, e sob quais condições, as tecnologias digitais podem ser usadas para a autonomia e a emancipação das mulheres? Enquanto essa resposta for atravessada pelo medo, pela vigilância e pela exposição desigual dos corpos, a tarefa de interrogar, resistir e reinventar o digital permanece aberta.
Referências utilizadas para construir o texto
ELWOOD, Sarah; LESZCZYNSKI, Agnieszka. Feminist digital geographies. Gender, Place & Culture, Londres, v. 25, n. 5, p. 629–644, 2018. DOI: https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1465396.
BENÍTEZ LARGHI, Sebastián. Gender Dimension of Digital Technologies. Coordenação: Roseanne Diab; Peter McGrath; Manuela Schipizza. Trieste: GenderInSITE, 2021. ISBN: 978-88-944054-3-9. Disponível em: https://genderinsite.net/sites/default/files/GenderDimensionOfDigitalTechnologies.pdf. Acesso em: 8 jan. 2026.
GROK is generating about “one nonconsensual sexualized image per minute”. Rolling Stone, New York, 6 jan. 2026. Disponível em: https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/grok-ai-deepfake-porn-elon-musk-1235494809/. Acesso em: 8 jan. 2026.
HELDER, Darlan. “Sentimento horrível. Me sinto suja”, diz brasileira vítima de foto editada de biquíni pelo Grok, IA de Musk. G1, Rio de Janeiro, 8 jan. 2026, 05h00. Disponível em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2026/01/08/sentimento-horrivel-me-sinto-suja-diz-brasileira-vitima-de-foto-editada-de-biquini-pelo-grok-ia-de-musk.ghtml. Acesso em: 8 jan. 2026.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU alerta: violência digital alimenta nova onda de abuso contra mulheres e meninas. Notícias ONU Brasil, 25 nov. 2025. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2025/11/1851619. Acesso em: 8 jan. 2026.
Série: Crônicas Feministas (ACCA) — publicações às quintas-feiras.
ACCA — cultura, pesquisa e autonomia feminina
Conheça os projetos, publicações e ações da Associação Cultura, Cidade e Arte. Leia, compartilhe e caminhe com a gente.
Acessar o site da ACCA